Há algo profundamente tranquilizador nos números. Eles não hesitam, não discutem, não sentem culpa. Dizem-nos o que fazer com a autoridade fria de quem parece saber mais do que nós.
O problema começa quando esquecemos que nenhum dado nasce neutro. Toda métrica é uma escolha. E toda escolha é política, cultural e moral, ainda que travestida de objetividade. O nosso tempo não é dominado pelos números porque eles sejam verdadeiros, mas porque são convenientes. Num mundo confuso, delegar o juízo a indicadores é um alívio psicológico — mas sobretudo é uma abdicação intelectual.
A quantificação generalizada prometeu clareza, eficiência e justiça. Entregou, muitas vezes, padronização, conformismo e obediência. Quando avaliamos uma universidade, um hospital, um profissional ou uma política pública por um conjunto reduzido de indicadores, não estamos apenas a medir a realidade: estamos a reduzi-la. Tudo o que não cabe no modelo deixa de contar. Não porque seja irrelevante, mas porque é difícil de medir.
Aqui reside o engano central. Métricas dão a sensação de entendimento sem exigir compreensão. Criam uma aparência de racionalidade que dispensa o trabalho mais difícil: julgar. Pensar. Assumir responsabilidade. O número decide por nós — e, assim, ninguém decide verdadeiramente. O erro deixa de ter autor. A injustiça passa a ser sistémica. O absurdo torna-se procedimento.
O paradoxo é cruel. Vivemos rodeados de informação e cada vez mais pobres em discernimento.
Quando um sistema se organiza apenas em torno do que pode ser quantificado, ele começa a moldar o comportamento humano para satisfazer o indicador, não a realidade. Professores ensinam para o ranking. Médicos tratam para o protocolo. Pesquisadores escrevem para o índice de impacto. Gestores lideram para o dashboard. A vida adapta-se à métrica — e não o contrário. Este fenómeno é amplamente conhecido desde a formulação da chamada Lei de Goodhart, segundo a qual um indicador deixa de ser bom no momento em que se torna um objetivo. O que poucos admitem é a dimensão civilizacional desse desvio.
A consequência mais grave não é a ineficiência. É a substituição do juízo humano por regras automáticas, acessíveis a qualquer um precisamente porque dispensam experiência, intuição e sensibilidade. Pessoas tornam-se intercambiáveis. O critério singular — aquilo que distingue um grande professor de um professor correto, um bom médico de um médico excelente — passa a ser visto como risco, não como valor. O sistema prefere a previsibilidade medíocre à excelência imprevisível.
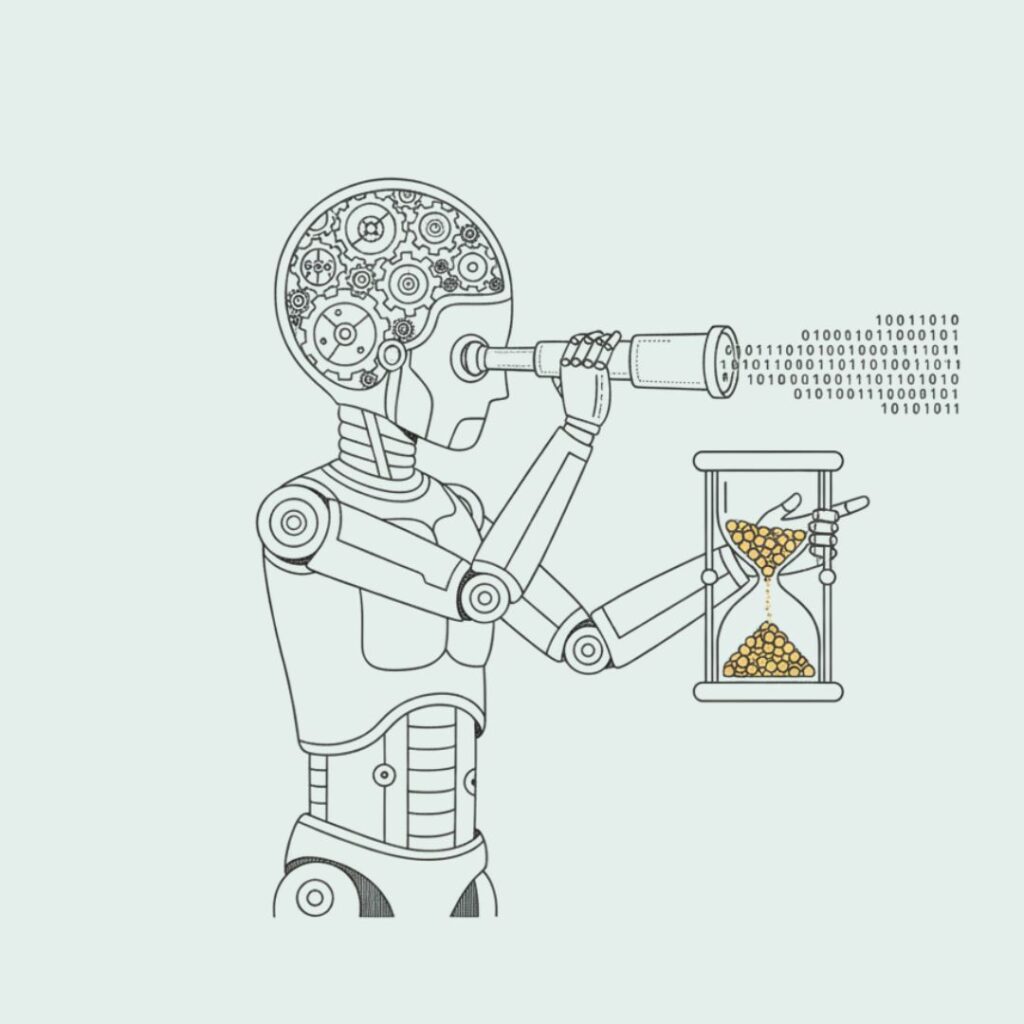
Há, claro, métricas úteis. A ciência, a medicina e a economia moderna não existiriam sem quantificação. O erro está em confundir ferramenta com autoridade. Quando os números deixam de apoiar decisões humanas e passam a substituí-las, não estamos a avançar tecnologicamente; estamos a empobrecer eticamente.
Este movimento não acontece por maldade, mas por preguiça moral. Julgar cansa. Pensar custa. Discordar exige conflito. Os dados oferecem um atalho elegante: parecem objetivos, globais, inquestionáveis. E é exatamente por isso que se tornam tão perigosos. Como alertam análises recorrentes no Financial Times e na tradição crítica inaugurada por Donald T. Campbell, a governança por indicadores cria sistemas que se protegem a si mesmos, mesmo quando já não servem a realidade que deveriam medir.
No fim, o paradoxo é cruel. Vivemos rodeados de informação e cada vez mais pobres em discernimento. Nunca tivemos tantos dados — e nunca confiámos tão pouco na inteligência humana para interpretá-los.
Ao entregarmos o juízo aos números, não nos tornámos mais racionais. Tornámo-nos mais obedientes. Talvez o verdadeiro progresso do nosso tempo não seja criar melhores métricas, mas reaprender a usá-las com humildade. Como instrumentos. Não como oráculos.


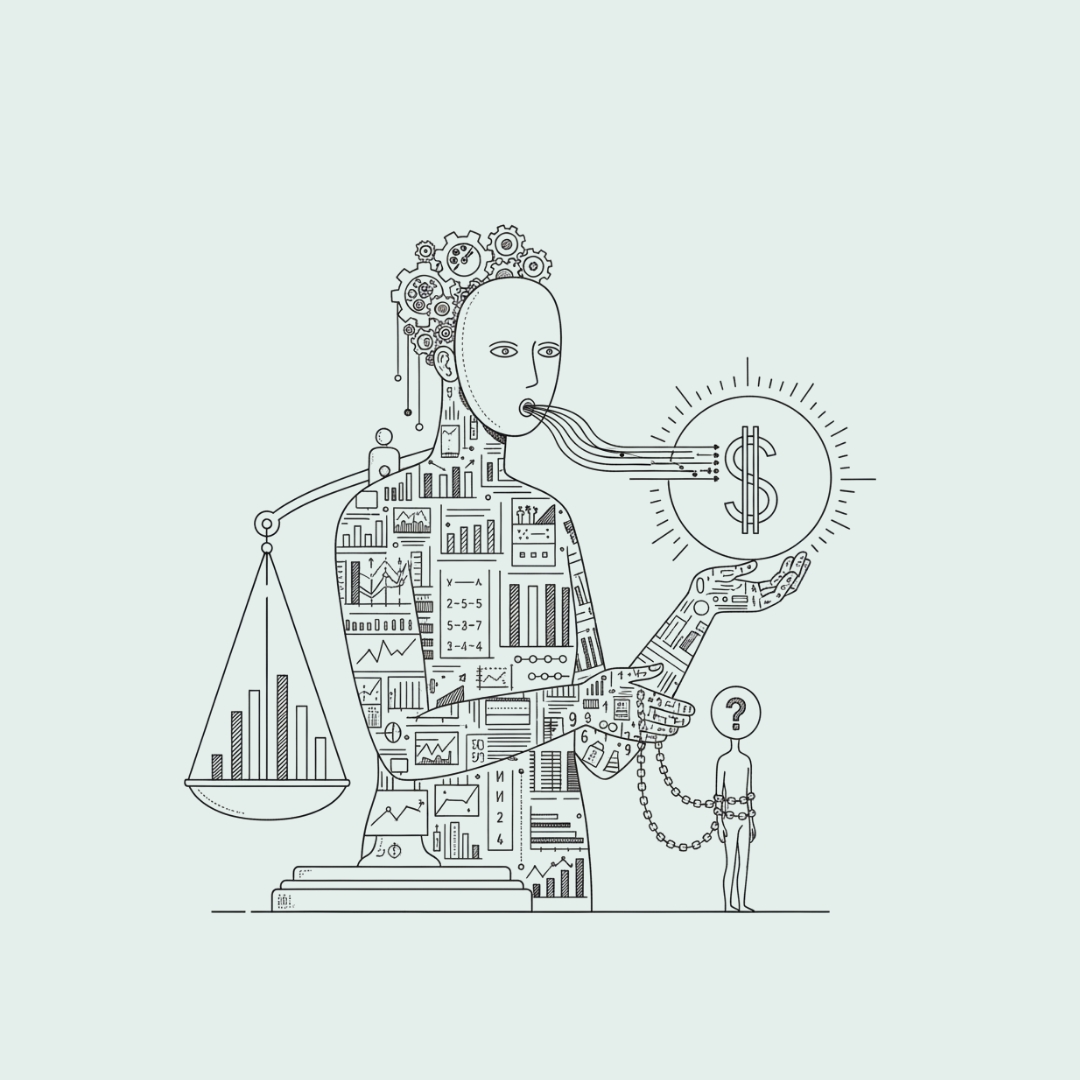
Tem opinião sobre isto?