Quando hoje olhamos para o orelhão como relíquia de um mundo analógico extinto, corremos o risco de cometer um segundo apagamento: o de tratá-lo como curiosidade nostálgica, e não como evidência de que o Brasil já foi capaz de produzir soluções públicas sofisticadas, universais e belas — sem chamar isso de inovação.
Durante décadas, ele esteve ali, plantado nas esquinas, nas praças, nos lugares onde o Brasil acontece sem pedir licença. Curvo, protetor, quase maternal, oferecia voz a quem não tinha linha em casa, nem nome na agenda do poder. Era tecnologia de inclusão antes de a palavra existir. E, como toda grande ideia que funciona demais, deixou de ser percebida como criação. Tornou-se paisagem.
O pormenor decisivo da história não é o objeto, mas o seu desaparecimento simbólico enquanto obra de inteligência. O orelhão foi naturalizado com tamanha eficácia que ninguém mais se perguntou quem o tinha pensado. Quando um país transforma uma invenção em anonimato, não está a ser modesto: está a revelar a sua dificuldade crónica em lidar com autoria aplicada, sobretudo quando ela não vem embrulhada em retórica épica ou assinatura masculina consagrada.
A designer Chu Ming Silveira não criou um artefacto decorativo nem um luxo tecnológico. Criou um sistema de acesso. Pensou forma, ergonomia, resistência, clima, vandalismo, custo e escala. Pensou o Brasil real — e isso costuma ter um preço alto. A genialidade que resolve problemas concretos raramente entra no panteão simbólico de um país apaixonado por ideias abstratas e pouco comprometido com o reconhecimento do trabalho invisível.
Há algo de profundamente revelador no facto de o orelhão ter sido tratado como “coisa do Estado” e, ao mesmo tempo, como “coisa de ninguém”. O Estado apropriou-se do objeto, mas não se responsabilizou pela memória da sua criação. A cidade adotou-o, mas apagou-lhe a origem. O Brasil falou através dele durante décadas, mas nunca pronunciou o nome de quem lhe deu voz.
O orelhão nunca foi apenas um telefone. Foi uma ideia pública com forma.
Essa nuance — um objeto omnipresente sem autor reconhecido — revela um traço persistente da nossa cultura: valorizamos o resultado, desdenhamos o processo; celebramos a função, esquecemos a inteligência; usamos a criação, mas não cuidamos do criador. Não é acaso que isso aconteça com uma mulher, imigrante, designer industrial, numa área onde a autoria raramente é narrada como gesto cultural.
O detalhe que revela o mundo é este: um país que transforma uma grande ideia em mobiliário urbano sem memória é o mesmo que depois se pergunta por que não lidera a economia do conhecimento. Liderar começa por saber nomear, reconhecer e proteger quem pensa antes que a ideia vire paisagem.
No dia em que aprendermos a contar a história do orelhão como obra de inteligência — e não apenas como objeto ultrapassado — talvez estejamos mais próximos de compreender que o futuro não se constrói apenas com tecnologia nova, mas com respeito pela inteligência que já tivemos e preferimos esquecer.

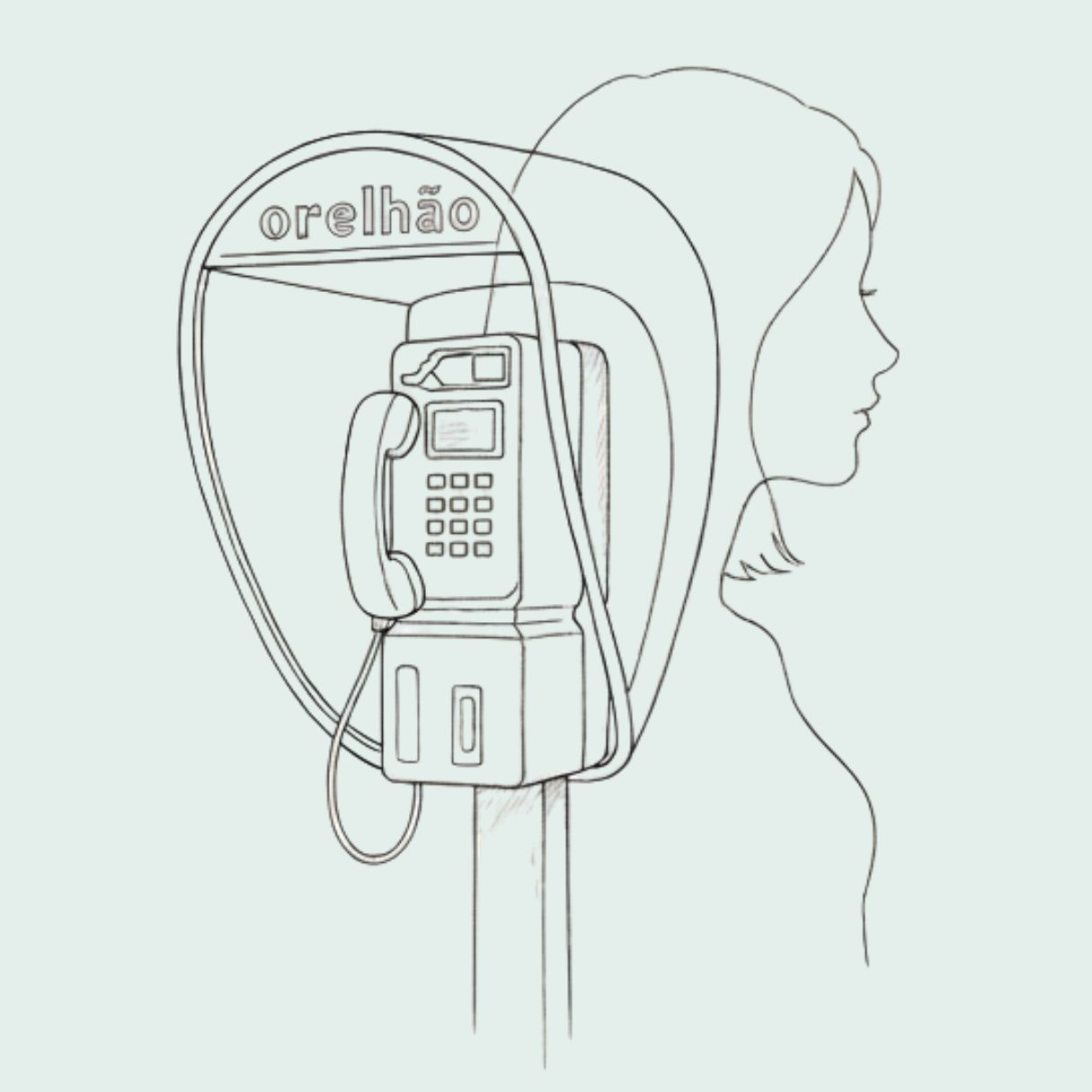
Tem opinião sobre isto?